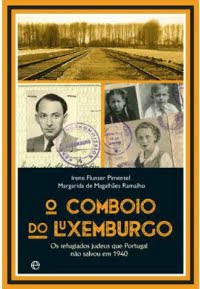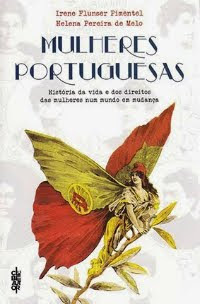Ao chegar à Presidência do Conselho de Ministros, em 1932, António de Oliveira Salazar considerou desde logo os «inimigos do Estado Novo» como «inimigos da Nação», contra os quais e ao serviço da qual – «isto é: a ordem, do interesse comum e da justiça para todos» – se podia e devia «usar a força, que realizava, neste caso, a legítima defesa da Pátria». (sublinhado do próprio texto do «Decálogo do Estado Novo»). Ao então jornalista António Ferro, que, nesse mesmo ano, o entrevistou, interrogando-o acerca do que se dizia sobre os maus-tratos exercidos pela polícia política do novo regime, Salazar declarou que se chegara «à conclusão que as pessoas maltratadas eram sempre, ou quase sempre temíveis bombistas, que se recusavam a confessar, apesar de todas as habilidades da Polícia, onde tinham escondido as suas armas criminosas e mortais». Ora, segundo disse o chefe do Estado Novo, «só depois de (a polícia) empregar esses meios violentos, é que eles se decid(iam) a dizer a verdade», pelo que Salazar perguntou ao seu interlocutor, «se a vida de algumas crianças e de algumas pessoas indefesas não vale bem, não justifica largamente, meia dúzia de safanões a tempo nessas criaturas sinistras ...» (Ferro: 1982, 54).
Nesta frase está contido todo um programa, que a Central Intelligence Agency (CIA) também tem utilizado para justificar o injustificável: que a utilização da tortura permite salvar vidas humanas, ao possibilitar captar informações sobre atentados que se iriam reazlizar. Tendo em conta que o Portugal de Salazar e de Caetano era uma ditadura, sem qualquer comparação com regimes democráticos, o que chama desde logo a atenção é o facto de muitas torturas usadas pela PIDE/DGS também o terem sido utilizadas pela CIA recentemente. Por isso, convém revisitar um pouco da nossa história recente. O que aqui apresento foi retirado de dois livros meus, de 2007, A História da PIDE e Vítimas de Salazar (co-autoria).
Álvaro Cunhal contou que, da primeira vez em que foi preso, nos anos trinta do século XX, o colocaram, algemado, no meio de uma roda de agentes, onde foi espancado a murro, pontapé, cavalo-marinho e com umas grossas tábuas. Depois, deixaram-no cair, imobilizaram-no no solo, descalçaram-lhe os sapatos e meias e deram-lhe violentas pancadas nas plantas dos pés. Quando o levantaram, obrigaram-no a marchar sobre os pés feridos e inchados, ao mesmo tempo que voltaram a espancá-lo. Isto repetiu-se por numerosas vezes, durante largo tempo, até que perdeu os sentidos, ficando cinco dias sem praticamente dar acordo de si (Arquivo da PIDE/DGS, pr. 15786 SR, Álvaro Cunhal).
Na sua segunda prisão, em Maio de 1973, José Lamego foi sujeito a espancamentos e a dois períodos de “sono”, respectivamente, de sete e de seis dias e noites. Detido pela terceira vez, em finais de Janeiro de 1974, foi então sujeito a dezasseis dias e noites, ininterruptos, de tortura do “sono”, aos quais se sucederam, posteriormente, mais sete dias e, de novo, mais três dias e noites. Sofreu ainda seis dias de “estátua”, transformando-se então os seus pés «numas bolas enormes, a pele ficava muito fina e sensível e as unhas das mãos sangravam». Ao descrever a privação de sono, contou que se tratava da tortura «mais sofisticada», pois se ficava «numa apatia geral, com períodos de lucidez» e ao «fim de três dias, vinham as alucinações visuais e auditivas» («Dossier 1974 foi há 20 anos», Visão, 21/4/1994, testemunho de José Lamego).
Entre estas duas datas, nos anos trinta e anos setenta do século XX, milhares de presos políticos, presos pela polícia política da Ditadura de Oliveira Salazar e Marcello Caetano, foram alvo de tortura.
Nos anos trinta e quarenta, a Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado (PVDE) – polícia política do Estado Novo, criada em 1933 - utilizou sobretudo as torturas físicas e os espancamentos, acompanhados da tortura da “estátua”, em que o detido era obrigado a estar de pé ou voltado para a parede, sem a tocar e de braços estendidos – a posição de “Cristo” – durante longas horas. Quando o preso se deixava cair, os pontapés atingiam-no em todas as partes do corpo. De vez em quando, agentes pegavam na cabeça do preso e batiam-na contra a parede. Os espancamentos, muito utilizados no tempo da PVDE, nunca cessaram, posteriormente, sendo aplicados, pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) – criada em 1945 - em elementos das classes sociais mais baixas, nos funcionários do PCP e não só.
Após 1945, o meio de interrogatório eleição da PIDE foi a chamada tortura do “sono” – ou seja, a privação de dormir durante dias e noites. Habitualmente, depois de capturado, o preso político era levado, em Lisboa, para a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, e, depois, para a prisão do Aljube ou para o forte de Caxias. À entrada para a cadeia, o preso era despido, revistado, sendo-lhe retirados todos os objectos – como óculos e atacadores - com que se pudesse suicidar ou localizar no tempo. Não tinha visitas antes dos interrogatórios – ou enquanto a polícia as proibisse –, não tinha acesso a livros, nem a papel, nem lápis ou caneta. Era a cela, a parede e a espera...
Quando os interrogatórios não eram realizados na própria cadeia do Aljube, em Lisboa, fechada em 1965, os presos eram conduzidos à noite, para o gabinete nº 70, no 3º andar da sede da PIDE. Nas sessões de tortura, participavam todos os agentes, e às vezes escriturários, consoante um serviço de escala («turnos») com a duração de quatro horas. Antes e durante os interrogatórios, as visitas do médico da PIDE/DGS tinham como função assegurar aos torturadores que o preso tinha condições de saúde que permitiam a continuação da tortura.
A “estátua” e o “sono”
No relato da sua segunda prisão, ocorrida em 1962, Alcino Sousa Ferreira referiu-se aos novos métodos de tortura usados pela PIDE. Afirmou que, estudando caso a caso e aplicando a cada um o processo mais adequado, a PIDE estava então a usar tanto as «amabilidades» como o as «violências». Relativamente a estas, relatou que podia haver umas pancadas para começar, seguindo-se-lhes, depois, a “estátua”, os insultos, a «pancada à bruta», a recusa de visitas e correspondência e a longa incomunicabilidade». Alcino Sousa Ferreira acrescentou que a polícia considerava «e com razão que desmoralizar o preso» era «meio caminho andado para o fazer falar».
A PIDE utilizava, no início dos anos sessenta, a tortura da “estátua”, habitualmente aplicada no Aljube, onde a polícia se servia de uma sala contígua à enfermaria, no último andar, com o chão de fibrocimento e na qual eram colocados grossos cobertores nas portas, para abafar o som. De entrada, a PIDE insistia para que o preso ficasse de pé, mas se este reagisse, permitia-lhe que se sentasse e levantasse, pois o que lhe interessava era o seu esgotamento, por falta de sono. Em certos casos, quando se reagia ou se tentava dormir, entrava a «pancada». A cada um, a polícia dizia que os outros tinham «falado», pondo na boca dele o que suspeitava ou conseguira investigar (Arquivo da PIDE/DGS, pr. 6 GT, Alcino Sousa Ferreira, fl 26).
A “estátua” foi sendo progressivamente abandonada, não só porque o preso podia recusar-se a “fazê-la”, atirando-se para o chão, mas também porque era um meio de tortura esgotava de forma demasiado rápida o detido. Já impedir alguém de dormir era mais “fácil”, além de que o sofrimento era mais longo, pois que, no “sono”, um detido “aguentava” mais tempo do que na “estátua”. Houve presos, por exemplo, que permaneceram durante mais de duas semanas no “sono”, o que era impossível na “estátua”. Se a “estátua” implicava o “sono”, esta última tortura, que nem sempre implicava a “estátua”, foi o meio de tortura mais utilizado pela PIDE/DGS, e temido pelos presos políticos, ao longo dos anos. Em 1961, Octávio Pato foi impedido de dormir durante onze dias e onze noites, de uma vez, e sete dias e sete noites, noutra, com um pequeno intervalo de dois ou três dias. Contou que, para impedirem o preso de dormir, os agentes da PIDE batiam na janela com uma moeda. Isso fazia «um barulho que parece um tiro» e o preso acordava aos sobressaltos, porque «adormecia de pé, mesmo a andar». Ele próprio caiu, uma vez, redondamente no chão, o que era uma situação muito perigosa, pois que se batesse com a cabeça na ponta duma secretária, o preso podia «ter morte imediata»(Medina: 1999, 189-195).
O exemplo da CIA
Ainda no seu relatório de 1962, Alcino Ferreira avisou que a PIDE estava a utilizar o que os «americanos» chamavam de «interrogatório seguido», eufemismo para a tortura do “sono”: vários investigadores revezavam-se, insistindo no mesmo ou mesmos pontos, muitas vezes aparentemente insignificantes, durante horas e horas em que o impediam de dormir. Embora esse processo ainda não estivesse a ser muito usado, por falta de quadros capazes, a PIDE estava «tentando suprir essa deficiência com um largo recrutamento de oficiais milicianos para investigadores», especializados para cada função.
A polícia política portuguesa começou efectivamente a aperfeiçoar “cientificamente” os seus métodos de tortura, a partir do final dos anos cinquenta, em contacto com serviços secretos e polícias de outros países, nomeadamente os norte-americanos. Em 1957, elementos da PIDE assistiram a cursos ministrados pela agência norte-americana, Central Intelligence Agency (CIA), que decorreram, em Camp Peary, perto de Williamsburg (Virgínia), sob o nome codificado de Isolation (Freire Antunes: 1991, 105). Depois, no início dos anos sessenta, a CIA realizou diversas experiências sobre a «privação sensorial», nos interrogatórios («De um livro da AEEPPA, Página Um: 25/9/78, 8-10), nas quais a PIDE se inspirou. Não terá sido certamente uma coincidência o facto de a PIDE ter utilizado métodos idênticos aos apresentados num Manuel da CIA de 1963, que incluía uma secção detalhada sobre "The Coercive Counterintelligence Interrogation of Resistant Sources," (interrogatório de contra-inteligência coercivo a fontes resistentes).
Entre as várias «técnicas coercivas», utilizadas de forma combinada, em correspondência com a personalidade do preso, contavam-se a «Debilitação», a «Dor» e, sobretudo, a «Privação de estímulos sensoriais». Para debilitar o detido, sugeria-se o impedimento de dormir e o fornecimento de refeições de forma irregular, de modo a desorientar o interrogado e aniquilar a sua vontade de resistir. Quanto à dor, infligida do exterior, era por vezes contra-producente, pois podia intensificar a vontade de resistência do detido e, por isso, aconselhava-se a optar por um tipo de sofrimento que parecia ser aplicado pelo próprio preso. Era, por exemplo, o caso da tortura da “estátua”, em que o facto de o indivíduo ser obrigado a permanecer de pé dava a ideia que a fonte da dor não era o carrasco, mas a própria vítima. Na importante secção «Privação de estímulos sensoriais», a CIA aconselhava a submissão do prisioneiro ao «isolamento prolongado». Segundo o Manual, «a privação de estímulos induz a regressão ao privar o sujeito do contacto com o mundo exterior» e, ao dar-se-lhe «estímulos calculados durante o interrogatório» o sujeito «regredido» tem tendência pata encarar o interrogador, que vem quebrar esse isolamento, «como uma figura paternal». Daí, resultava a quebra da sua resistência.
O isolamento
Em Portugal, a polícia política recorreu aos espancamentos e a outras agressões dolorosas, mas também precisamente à privação da mobilidade, na “estátua”, do descanso, na “tortura do sono”, e do contacto com o mundo exterior, através do isolamento. Muitos detidos pela PIDE/DGS, referiram que, após um período de serem sujeitos a violências e à tortura do “sono”, sentiram uma quase felicidade, com o retorno à cela e ao isolamento. Mas, depois, consideraram o isolamento mais difícil de suportar do que a própria tortura, pois provoca, no indivíduo, um sentimento permanente de ameaça sem objecto e uma vivência de despersonalização.
No geral, a incomunicabilidade nas cadeias da PIDE/DGS durava, durante o período de prisão preventiva, de três meses, que podia ir até aos seis meses, com autorização do ministério do Interior, com proibição de livros, revistas e correspondência. Nessa situação, o silêncio tornava-se insuportável, a imaginação enlouquecia o detido e os fantasmas provocavam a perda das referências e a destruição da identidade, bem como da vida civilizada. Isolado na cela, apenas com os seus pensamentos, o prisioneiro desesperava, ante a expectativa do futuro suplício, ficando com uma profunda sensação de vazio e desejando voltar a ver qualquer pessoa, mesmo se esta só podia ser o seu carrasco.
Detido de novo, em 1949, Álvaro Cunhal contou, mais tarde, com pleno conhecimento de causa, que a «incomunicabilidade» «era a pior de todas as torturas». Ao considerar o isolamento «bastante mais difícil de suportar que um espancamento» e «muito mais abalador que a mera violência física», ao funcionar como um «silencioso, mas implacável demolidor da resistência moral do preso», J. A da Silva Marques descreveu a sua própria experiência, quando foi detido em 1962:
«Sozinho numa cela, sem visibilidade para o exterior, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar, sem nada para ler, sem nada para escrever, sem horas, sem dias, atravessando as intermináveis horas dos dias e das noites, o preso no “isolamento” é verdadeiramente um homem só. Sem tempo e sem espaço, retirado da vida. Como se tivesse sido metido num buraco, e o mundo continuasse a rodar, passando-lhe por cima ou ao lado. Antes entre inimigos.
Uma reacção significativa era a dos presos em “isolamento” chamados a interrogatório. Como se ansiava dia a dia essa chamada. Ir a interrogatório era como que ir ver o que se passava “lá fora”. Um regresso ao mundo. E quando se ouvia no corredor os passos da brigada que vinha buscar um preso para interrogatório, e ela se dirigia para a cela ao lado, sentia-se uma amargurada mistura de alívio e frustração. A “sorte” de não ter ido, de não suportar provavelmente novos vexames ou violências; e o não ter tido a “sorte” de ir, de ir “lá fora”.
A defesa do preso contra a acção demolidora do “isolamento” está nas suas reservas morais e psíquicas. Na capacidade de viver imaginariamente e de construir um novo mundo físico, um novo quotidiano.
(…) Poder-se-á dizer que se aprende a viver no “buraco”; mas estando nele» (Silva Marques: 1976, 111-114).
Mulheres torturadas
A partir do início dos anos sessenta, quando deixaram de ser apenas encaradas como mulheres de rebeldes e passaram a ser elas próprias consideradas rebeldes, as mulheres começaram a ser torturadas da mesma forma que os homens. O ponto de ruptura, ou de viragem foi de facto o ano de 1962, com a prisão, em 27 de Abril desse ano, de várias mulheres do Couço (Freitas, Diário de Lisboa, 20/2/1975). Uma delas, Maria Galveias, contou que esteve «onze dias de interrogação» e, depois, mais seis dias e seis noites, enquanto Maria Madalena Henriques ficou, durante sessenta e seis horas sem dormir e a ser espancada, ficando com o nariz torto e o corpo cheio de nódoas negras (Godinho: 1998, Dissertação de doutoramento, policopiado, 400 e 401).
Maria Custódia Chibante, outra mulher do Couço, esteve, na sala de torturas, vigiada pela agente Odete, que a tentou persuadir a comer, mas como ela não o fizesse, esbofeteou-a selvaticamente. Foi rendida pela agente Assunção, que espancou Custódia, durante toda a noite. Levantando a saia da presa, espancou-a com o «cassetête», a pontos de deixar toda negra, da cintura até à curva da perna, e sem quase ver do olho esquerdo, devido ao inchaço provocado pelas bofetadas. Além de lhe bater na nuca, em tipo de cutelo, agarrou-a pelo cabelo e forçou-a a andar de um lado para o outro com tanta velocidade, que quando a largava, ela quase caía.
Ao convencer-se que não a faria comer, apertou-lhe o nariz com força e meteu-lhe um copo com leite nos lábios, que, depois, lhe despejou pela cara, ao mesmo tempo que continuava a espancá-la. De seguida, Maria Custódia foi colocada de “estátua” no meio da sala e espancada na nuca, pela agente Madalena. Ao fim de setenta e cinco horas sem dormir, chegou ao limite das suas forças físicas, com a sensação de que o coração lhe saltava pela cabeça. Foram então buscar um colchão imundo, no qual se deitou. No dia seguinte, tentaram tirar-lhe o colchão mas como ela não conseguisse suster-se em pé, os interrogatórios continuaram, com ela sentada. Finalmente, ao verem que não se recompunha, levaram-na para Caxias, em braços, pois não conseguia anda (Dossier P.I.D.E.: 155-157
Olímpia Brás, também do Couço, foi colocada numa sala, na sede da PIDE de Lisboa, onde as agentes Madalena e Assunção começaram a espancá-la, até o seu braço esquerdo ficar completamente negro. Como não gritasse nem chorasse, Madalena começou a bater-lhe com a cabeça na parede. Depois, ficou sentada num banco, no meio da sala, sem se encostar, revezando-se os agentes, que chegaram a ser vinte, para não a deixarem dormir, durante horas e horas, com ameaças, insultos e humilhações. Ao fim de três noites, entrou o inspector Silva Carvalho, avisando-a que seria despida, se não falasse e, efectivamente, as agentes Madalena e Assunção deixaram-na nua, batendo-lhe a primeira agente com um cassetête no peito esquerdo, que ficou negro de repente (Nobre de Melo: 1975, 169-173).
Intensificação das torturas
Nos anos sessenta, de agitação estudantil e social, a repressão continuou a abater-se sobre o PCP, que perdeu, neutralizados nas cadeias, muitos militantes, desde operários e assalariados rurais, a estudantes e intelectuais que haviam ingressado no activismo de oposição ao regime. Piores ainda, em termos de repressão, foram, depois, os anos de 1963 e 1965, ano muito duro, não só porque foi aquele em que ocorreu o assassinato, pela PIDE, de Humberto Delgado e Arajaryr Campos, como porque se assistiu então a um aumento da violência nos interrogatórios. Os presos da FAP/CMLP foram todos sujeitos a violentas torturas e os do PCP, além de serem impedidos de dormir por período cada vez maiores, foram alvo de novos tipos de violências: por exemplo, Álvaro Veiga de Oliveira esteve na tortura do sono, durante duas semanas e Maria da Conceição Matos foi espancada, despida e humilhada.
A tortura, no final do regime
A partir de final dos anos sessenta, quando o regime ditatorial estava a viver os seus últimos tempos, as torturas aumentaram. Em 1971, dos Serviços de Investigação da DGS foram transferidos, da Rua António Cardoso, para o Reduto Sul do Forte de Caxias e os interrogatórios, antes realizados na sede da polícia, passaram a ser feitos a cerca de duzentos metros da ala norte de Caxias, onde os presos estavam encarcerados. Os espancamentos, com matracas e cavalos-marinhos voltaram a ser utilizados em grande escala, especialmente nos casos dos presos mais indefesos socialmente ou contra os suspeitos da acção armada. Foi então que a duração da tortura do “sono” atingiu limites indescritíveis, de mais de duas semanas consecutivas. À privação do sono e à “estátua”, novamente utilizada, juntaram-se o funcionamento de altifalantes, com vozes, gritos e choros, bem como os choques eléctricos e o uso de drogas estimulantes ou calmantes.
Após 25 de Abril de 1974, o psiquiatra Afonso de Albuquerque analisou as consequências clínicas dos interrogatórios realizados pela PIDE/DGS, através de uma amostra de cinquenta pessoas, presas entre 1966 e 1973. Mencionou as seguintes causas das perturbações detectadas nesses ex-detidos: o isolamento e a despersonalização (50%); a privação de sono (96%); os espancamentos (46%); a “estátua” (38%), os insultos e as chantagens (30%), as variações de temperatura (8%); os altifalantes com gravações (8%) e os choques eléctricos (4%). Quanto às consequências imediatas da tortura, o psiquiatra observou as seguintes: as alucinações e o delírio (76%); as perdas do conhecimento (15%); os edemas dos membros inferiores (10%) e as tentativas de suicídio (6%). Foram ainda observadas sequelas a médio e longo prazo: falhas de memória (16%); depressão (16%); insónias (8%); psicoses esquizofrénicas (8%) e ansiedade, cefaleias, gaguez e dificuldades sexuais, entre outras (30%) (Dossier 1974, foi há 20 anos», Visão, 21/4/94).
Ao relatar as torturas da PIDE/DGS, em Portugal, Afonso de Albuquerque afirmou que, para essa polícia, fazer «falar» os presos não era o mais importante. O que lhe interessava verdadeiramente era a destruição da personalidade do preso e a criação de um clima de terror em todo o país através do que contavam as pessoas mais próximas do detido. Ou seja, a tortura nem sempre – ou quase nunca – tenta fazer «falar», servindo sobretudo para fazer «calar», ao encerrar, no mesmo silêncio, tanto as vítimas, como os carrascos, mas também os que encorajam e programam a sua utilização. Agente de um poder violento, o aparelho torcionário pretende «não só fazer falar a vítima, mas fazer calar toda a oposição», instalando a submissão total e a paralisia em todos os que são governados, bem como desactivando todos os que ele acusa de colocar em perigo a ordem estabelecida.
O argumento, utilizado por Salazar, em 1932, para justificar a utilização de «meia dúzia de safanões a tempo» é recorrentemente usado nos regimes ditatoriais, mas não só, que justificam habitualmente o recurso à tortura policial como possibilitando o salvamento de vítimas inocentes. Ora, ao ser detido, em 30 de Junho de 1971, sob suspeita de fazer parte da organização de luta armada, ARA, o jovem Júlio Lopes Freire («O testemunho da Comissão de Socorro aos Presos Políticos», Público, 17/4/2004, 15) foi enviado directamente para o forte de Caxias, onde permaneceu, sem ser interrogado, até 19 de Julho, dia em que, após a visita com a família, se iniciaram os interrogatórios. Ou seja, só foi interrogado – i.é., torturado - dezanove dias após a sua detenção, pormenor que é muito importante, pois deita por terra a justificação de governantes e da própria polícia segundo a qual ela seria obrigada a torturar, para obter informações sobre atentados, que possibilitariam os “inocentes” de serem atingidos.
Uma polícia eficaz? Informadores e tortura
À semelhança de todas as polícias políticas das ditaduras, a PIDE não necessitava de ser muito aperfeiçoada nas tarefas de informação e de investigação. É um facto que a sua eficácia resultou sobretudo da luta desigual, a seu favor, que travou contra os seus alvos, possibilitada pelos seus poderes – de prisão preventiva e medida de segurança – e pelos seus métodos de informação e investigação. Tinha desde logo a sua vida amplamente facilitada pela utilização de uma ampla rede de informadores, pagos ou não, controlados pelos serviços de Informação, montados e chefiados por Álvaro Pereira de Carvalho, entre 1962 e 1974. Além de utilizar os informadores, a PIDE/DGS também pôde recorrer a outros meios, sem qualquer fiscalização, como por exemplo, a intercepção postal e a escuta telefónica, os quais foram, aliás, também usados relativamente a elementos do próprio regime, para impedir dissensões ou como instrumentos de chantagem.
Quantos aos métodos de “investigação”, a PIDE/DGS, utilizou processos violentos e os chamados interrogatórios “contínuos” – eufemismo para o “sono” e a “estátua” e os espancamentos -, na sede da PIDE, ou, mais tarde, no reduto sul de Caxias. Em Portugal, além dos espancamentos, foi sobretudo utilizada a tortura «científica» da privação, em parte aprendida com a CIA: a privação de movimento, ou “estátua”, a privação de dormir, ou tortura do “sono” e a privação de contactos com o exterior, ou isolamento. Estas “modalidades” de tortura, reveladoras de que a polícia tinha todo o tempo do mundo, foram a negação do próprio argumento de que os «safanões a tempo» eram dados para salvar inocentes, de actos «terroristas», conforme tinha dito Salazar, em 1932.
Através da tortura, o carrasco em qualquer latitude e época, tenta quebrar a dignidade a autonomia do preso e dar ao torturado a sensação – real - de estar à total mercê do carrasco e actualiza todas as outras violências que virão a seguir. O fim último da tortura é, além de provocar o abandono total da vontade da pessoa, a destruição física, psíquica e moral do preso, possibilitada pelo domínio total(itário) do carrasco sobre ele, que lhe condiciona a capacidade de pensar e a própria dignidade de ser humano. Ao «fazer falar» o preso, a PIDE/DGS pretendia não só obter informações, destruir as suas convicções, isolá-lo do seu grupo de pertença, bem como obrigá-lo a agir contra si próprio e contra os seus valores. Além de «fazer falar», a tortura pretende também fazer com que o torturado oiça a voz do poder e perceba que está nas suas mãos. Diga-se que, ao longo dos anos, a PIDE foi aperfeiçoando os seus métodos de “interrogatório contínuo”, que tiveram, aliás, grande eficácia. Através do estudo de diversos processos, embora sem se cair em análise estatísticas, pode-se dizer que foram raros os casos em que o silêncio total imperou, às mãos da PIDE, embora tivessem existido, nomeadamente no PCP.
Mas a tortura também serve para «fazer calar», ao constituir um aviso, para silenciar toda a oposição, e uma ameaça para aterrorizar e desmobilizar a população, com o simples rumor da existência da violência. No Estado Novo, a utilização da tortura foi negada, em nome de não ser compatível, num país de brandos costumes, com a civilização cristã, que moldava a Constituição portuguesa, através da moral e pela lei. Mas a ameaça da sua existência permaneceu sempre no “ar”, falada à boca pequena, enquanto instrumento para aterrorizar e desmobilizar. Nesse sentido, embora utilizando a técnica do eufemismo, para se referir às torturas, a PIDE não deixou de fazer constar, à boca pequena que elas existiam, para travar veleidades de prevaricação “subversiva”.
Fontes e bibliografia
Arquivo da PIDE/DGS na DGARQ
Arquivo Oliveira Salazar, na DGARQ
Ferro, António, Salazar. O Homem e a Sua Obra Lisboa, Fernando Pereira Editor, 1982
«Dossier 1974 foi há 20 anos», Visão, 21/4/1994,
Medina, Miguel, Esboços. Antifascistas relatam as suas experiências nas prisões do fascismo. Entrevistas conduzidas por, volume 1, Lisboa, CML, 1999
Freire Antunes, José, Kennedy e Salazar. O Leão e a Raposa, Lisboa, Difusão Cultural, 1991
A. A. Silva Marques, Relatos da clandestinidade. O PCP visto por dentro, Lisboa, Jornal Expresso, 1976
Freitas, Gina de, «A Força Ignorada das Companheiras», Diário de Lisboa, 20/2/1975
Godinho, Paula, Memórias da Resistência Rural no Sul, Couço (1958-1962), Oeiras, Celta, 2001
Mulheres Portuguesas na Resistência, dir. Rose Nery Nobre de Melo, Seara Nova, 1975
(publicado no blogue Jugular, em 10/12/2014)